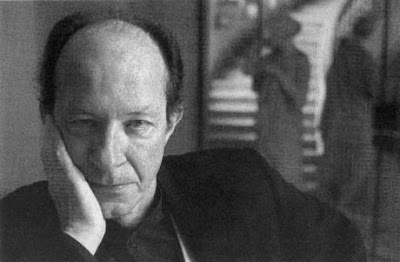Em sua arqueologia da melancolia realizada na primeira parte de Estâncias, que vai de Aristóteles à Freud, detendo-se em escolas filosóficas medievais, Giorgio Agamben conclui que, em resumo, essa “síndrome atrabiliária” é caracterizada pelo desejo obsessivo por um objeto inapreensível, que o melancólico sente ter perdido sem nunca ter possuído, e sua consequência imediata é a introspecção e a potencialização da imaginação, diminuindo o interesse na realidade física.
Não é difícil, partindo dessa definição, chegar à arte: “A associação tradicional da melancolia com a atividade artística encontra a sua justificação precisamente na exarcebada prática fantasmática, que constituiu a sua característica comum” (p. 52). E mais adiante:
o objeto irreal da introjeção melancólica abre um espaço que não é nem a alucinada cena onírica dos fantasmas, nem sequer o mundo indiferente dos objetos naturais. Mas é nesse lugar epifânico intermediário, situado na terra de ninguém, entre o amor narcisista de si e a escolha objetual externa, que um dia poderão ser colocadas as criações da cultura humana, o entrebescar das formas simbólicas e das práticas textuais, através das quais o ser humano entra em conato com um mundo que lhe é mais próximo do que qualquer outro e do qual dependem mais diretamente do que da natureza física, a sua felicidade e a sua infelicidade. [p. 53-4, grifo do original]
O melancólico acessa então “uma dimensão nova e fundamental” (p. 53), característica da capacidade imaginativa, o que nos remete diretamente ao título do livro, aberto com a seguinte citação de Dante:
A respeito disso é preciso saber que este vocábulo foi criado somente em consideração da arte, isto é, de modo tal que aquilo em que estivesse contida toda a arte da canção fosse chamado stantia – o que significa residência capaz ou também receptáculo – de toda a arte. Pois, do mesmo modo que a canção é o regaço de toda a sentença, assim a stantia recolhe no seu regaço toda a arte. [p.1]
A estância é a residência da arte, como é no “lugar epifânico intermediário” que se encontrariam as “formas simbólicas” e “práticas textuais”. A arte povoa este universo paralelo e é através dela que podemos acessá-lo.
* * *
Em A Ponte das Artes (Eugène Green, 2004), o jovem Pascal (Adrian Michaux) se apaixona pela cantora lírica Sarah (Natacha Régnier) através de um disco presenteado por sua ex-namorada. A paixão pela música e pela intérprete o leva a desistir de uma tentativa de suicídio e partir em busca de sua enamorada.
Ela, no entanto, se suicidou antes de conhecer Pascal, sucumbindo às pressões de seu malvado professor de música. Contra as expectativas, Pascal acaba por encontrar sua amada: escutando sua música, ele se vê na Ponte das Artes parisiense, deserta, exceto pelos dois. Ele lhe diz que quer se unir a ela, ao que ela responde: “nós estamos unidos, na luz”. Os dois se abraçam e suas sombras se fundem.
O filme termina em nota otimista: Sarah não pode voltar à vida, mas Pascal pode lidar com sua ausência através de sua música, onde ela sobrevive. A arte possibilita lidar intelectualmente com a incompletude material, vislumbrar (ou mesmo sentir) o estado das coisas onde a completude é possível. Pascal deverá continuar a louvar o objeto inapreensível, cuja perda pôde ser organizada através da arte. Ela lhe permite contemplar o objeto sem nunca acessá-lo, promovendo, no entanto, uma satisfação parcial da lacuna que lhe servirá para levar a vida adiante, apesar (ou superando) sua desilusão com o significado do mundo.
* * *
No célebre ensaio “A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica”, Walter Benjamin falava da condição da aura na obra de arte ao longo do tempo, entre outros assuntos. Quando da incapacidade de reprodução técnica da obra, como nas esculturas dos gregos antigos, sua beleza residia em um determinado material palpável. Na dita era da reprodutibilidade técnica da arte, onde, por exemplo, toda cópia de um filme é a princípio autêntica, a aura retira-se do objeto material.
O cinema promoveria uma destruição brutal da “aura” através de sua dessacralizante reprodução: “Retirar o objeto de seu invólucro, destruir sua aura, é a característica de uma forma de percepção cuja capacidade de captar “o semelhante no mundo” é tão aguda, que graças à reprodução ela consegue captá-lo até no fenômeno único.”(p. 170, grifo no original). Assim, o cinema consegue remeter à experiência única com tal força que a aura, experiência única, deixa de ser única e, por conseguinte, desaparece.
Benjamin nota ainda um interessante fenômeno:
Fazer as coisas “ficarem mais próximas” é uma preocupação tão apaixonada das massas modernas como sua tendência a superar o caráter único de todos os fatos através da sua reprodutibilidade. Cada dia fica mais irresistível a necessidade de possuir o objeto, de tão perto quanto possível, na imagem, ou antes, na sua cópia, na sua reprodução. Cada dia fica mais nítida a diferença entre a reprodução, como ela nos é oferecida pelas revistas ilustradas e pelas atualidades cinematográficas, e a imagem. (p. 170)
O trecho estabelece uma diferença entre a “reprodução”, mera reprodução, e a imagem, que remete à aura destruída por sua retirada de contexto. A cópia, entretanto, parece ter substituído o desejo do original: procura-se “possuir o objeto na imagem”, onde ele obviamente não reside.
* * *
O cinema, como a música, não parece existir enquanto experiência fora da esfera de sua execução. Assim, uma escultura, ou mesmo uma instalação, possui uma dimensão material totalmente conectada com seu conteúdo e a sua absorção sensorial, o que diminui numa fotografia, apesar de sua palpabilidade, e torna-se radical no cinema e na música, cujas unidades – respectivamente notas e imagens, dispostas em série – não conseguem remeter isoladamente à experiência pretendida de seu meio.
Essa questão sensorial foi estudada pela Gestalt. É chamada qualidade da forma a capacidade de um conjunto de ser percebido apenas na observação coerente do todo. A ilusão do movimento, princípio básico do audiovisual, é criada a partir da disposição rápida de fotos em sequência, que o cérebro só interpreta como movimento enquanto está sendo executado (a uma velocidade mínima). Assim, fora dessa disposição sequencial e rápida, o movimento não é criado e o cinema não se nos apresenta como tal. O cinema promove então uma desmaterialização profunda, visto que nem em seu suporte material, o filme, pode ser apreendido. Essa desmaterialização parece uma tendência que se acentua em tempos de digitalização avançada, mas as diferentes formas de apreensão artística continuarão as mesmas, independente do meio digital ou não, enquanto os canais sensoriais que cada dispositivo artístico solicita continuarem os mesmo, mantendo a hierarquia de materialidade das artes de agora.
* * *
Martine Joly identifica diversos usos da palavra “imagem” e conclui, através de seu enfoque semiótico, que o que há de comum entre todos esses significados é a ideia de “imagem” como aquilo que se assemelha a outra coisa sem sê-la, uma representação e, portanto, um signo, capaz inclusive de confundir-se com seu referente (p. 43-4).
Henri Bergson estabeleceu uma definição de imagem enquanto representação que servisse à sua análise da percepção humana e da estrutura do universo. A princípio, a formulação é simples: “por ‘imagem’ entendemos [...] uma existência situada a meio caminho entre a ‘coisa’ e a representação’” (p. 11). Mais adiante no texto, a noção é desenvolvida (p. 33):
Bastaria que as imagens presentes fossem forçadas a abandonar algo delas mesmas para que sua simples presença as convertesse em representações. [...] Eu a converteria [a imagem presente] em representação se pudesse isolá-la, se pudesse sobretudo isolar seu invólucro. [...] O que é preciso para obter essa conversão não é iluminar o objeto, mas ao contrário obscurecer certos lados dele, diminuí-lo da maior parte de si mesmo...
No esquema holístico de Bergson, não existe separação real entre nenhum elemento, havendo ao contrário solidariedade entre eles. Uma imagem presente contém em si todas as outras e a operação de torná-la em imagem representável baseia-se em seu destacamento, criando cisão e esvaziamento arbitrários do elemento e seu contexto.
Tomando-se a ideia de imagem como representação e partindo do processo de subtração sugerido por Bergson, me pergunto o que foi perdido para que surgisse a imagem cinematográfica. Uma pergunta não muito difícil. Entretanto, uma passagem de André Bazin (p. 127) nos oferece uma resposta intrigante: “Só a objetiva nos dá do objeto uma imagem capaz de ‘desrecalcar’, no fundo do nosso inconsciente, esta necessidade de substituir o objeto por algo melhor que um decalque aproximado: o próprio objeto, porém liberado das contingências temporais.”
Na concepção de Bazin, a interferência humana é mínina no processo da fotografia; há uma crença na autonomia da “objetiva”. O objeto fotografado é “lacrado no instante”, “embalsamado”, já o objeto filmado atinge um novo patamar: a própria duração é embalsamada, “uma múmia da mutação” (p. 126). E, ainda, o papel da fotografia é a “revelação do real” (p. 127).
Na concepção baziniana, onde a imagem fotográfica possui uma ligação ontológica com o modelo, a apreensão do objeto em sua duração alça-o a uma nova dimensão. Apesar de identificar a necessidade humana da mimese como origem do realismo e um dos guias da arte ocidental, atingindo seu ápice com o cinema, Bazin faz crer que a essa necessidade cria um novo universo onde os objetos são liberados, vivendo sob um novo regime paradoxalmente mais autêntico.
* * *
Fica claro em Agamben, Benjamin, Bazin e mesmo Bergson a identificação de um movimento humano em busca do mundo das representações que seria em si uma dimensão autônoma, mas ao mesmo tempo estranhamente similar ao dito mundo real. Agamben o diz da forma mais explícita, Benjamin na identificação da preferência da representação que imitaria a aura, Bazin na busca ocidental pelo realismo e pela captura libertadora do real e Bergson em sua identificação do corpo como objeto que cria representações através de sua subtração.
Arrisco dizer, portanto, que o movimento de fuga do real em direção à sua mimese – e, através dela, a uma nova dimensão – também tem o cinema como apogeu, a forma atualmente mais próxima no mundo ocidental da mítica estância. Acredito que isto se dá pela forte desmaterialização do cinema, por um lado, aliado a seu potencial mimético até agora inigualável, por outro. Este movimento duplo de desconstrução e reconstrução é baseado essencialmente na fuga para uma realidade incorpórea. Indo mais além, poderia afirmar se tratar de uma busca pelo inefável.
Deve-se a essa ampla competência do audiovisual para realizar ambos os movimentos a sua tão alardeada primazia no mundo contemporâneo. Como já muito se disse, o regime da palavra no universo ocidental foi substituído pelo da imagem, agora onipresente. Não é a toa que a publicidade valha-se principalmente da imagem estática e do audiovisual para promover a estetização dos produtos (agregação de valor simbólico) com bastante eficiência.
Isso também explica o lugar ocupado pelo cinema na arte e na história do século XX. Primeiro, sua parceria frutífera com as vanguardas do início do século, todas ou quase todas interessadas numa certa ação mental que fugia, ao menos minimamente, da materialidade como a conhecemos (do onirismo surrealista ao impressionismo sensorial francês, passando pelo futurismo e sua primazia da energia do movimento).
E, como discutiu Jacques Aumont em longo ensaio, o cinema foi a arte que melhor sobreviveu ao século XX no mundo ocidental, talvez disputando o primeiro lugar da lista com a música (com quem, aliás, teve frutífera relação em determinados momentos de sua história), mas certamente tirando parte do espaço antes destinado às artes plásticas, à pintura e ao teatro. Bastante popular no Ocidente e fora dele, é, segundo o autor, “a mais moderna das artes” (p. 121). Hoje em dia, o cinema enquanto dispositivo perde espaço apenas para o “cinema em casa” e a televisão, todos audiovisuais.
* * *
Dada a similaridade entre os mecanismos da melancolia e do cinema, nos resta indagar como se relacionam. Acredito que o cinema, pelos atributos que já discutimos, tem alto potencial de estimular um efeito melancólico nos indivíduos. Pode-se dizer, é verdade, que é o caso de toda a arte – talvez, em particular, da literatura. Mas nenhuma outra me parece povoar tão bem este limbo intangível como o cinema.
Suponho que o cinema facilita nos espectadores o duplo movimento da melancolia, estimulando um nível imaginário, mimético e incorpóreo ao mesmo tempo em que dessignifica o mundo material. O que não necessariamente produz a melancolia, mas os efeitos de um de outro me parece diferenciar-se não em natureza, mas em grau.
Acredito que não cabe aqui discutir os efeitos da criação desse mundo imaginário como têm ocorrido, que envolve discussões sobre alienação, o papel da arte na sociedade e na formação moral, os efeitos da publicidade, entre outros assuntos.
Agamben relembra algo pouco comentado acerca da melancolia: sua dupla polaridade, podendo ser tanto positivo quanto negativo (p. 31-2), e assim acredito que possa ser o cinema: um refúgio para os que duvidam do sentido do mundo, mas também uma forma de perturbação para os que se sentem bem situados. E, em ambos os casos, os efeitos podem ser construtivos, como o foi para Pascal, ou nefastos.
Giorgio Agamben
Bibliografia:
Agamben, Giorgio: Estâncias - A palavra e o fantasma na cultura ocidental. Editora UFMG, 2007.
Aumont, Jacques: Moderne? – Comment le cinéma est devenu le plus singulier des arts. Cahiers do Cinémas, 2007.
Benjamin, Walter: Obras Escolhidas, vol.1 : Magia e técnica, arte e política. Editora Brasiliense, 3ª edição, 1987.
Bazin, André, no livro A Experiência do Cinema - Ismail Xavier (org.) Edições Graal, 2008.
Davidoff, Linda: Introdução à Psicologia. Pearson Education do Brasil, 3ª edição, 2006.
Bergson, Henri: Matéria e Memória. WMF Martins Fontes, 4ª edição, 2010.
Joly, Martine: Introducción al Análisis de la Imagem. La Marca Editora, 2ª edição, 2009.